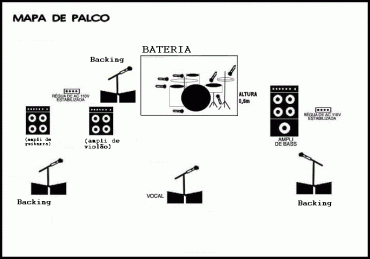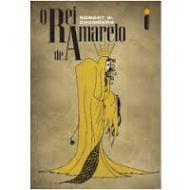Trombone: Blog de Crítica de Arte em Porto Alegre
“Construto no plano do inabordável”
Deixe um comentário
Publicado no Caderno de Sábado do Correio do Povo em 11 de novembro de 2017.
Texto de Leonardo Antunes, poeta e professor da UFRGS

Como falar de talvez um instrumento o que se houve ao fundo (Editora Moinhos, 2017), mais recente livro de Guto Leite?
O próprio título do livro já alerta o leitor para o fato de que está diante de um construto amparado no plano da incerteza, do inabordável, do incomunicável.
A arte da capa reforça essa impressão: à primeira vez, parece ser preta, lisa, opaca, mas isso seria facilmente descritível, o que trairia o projeto da obra; em vez disso, a arte escolhida é mais impenetrável do que a própria escuridão – uma textura indefinível entre o vinho e a ferrugem; entre o bordô e o marrom; não uniforme, amórfica.
Abrindo o livro, o primeiro poema com que nos deparamos explicita, no plano formal, a ambição estética do projeto: são 25 páginas de palavras dispostas para cobrir de canto a canto, linha a linha, o poema do início ao fim; talvez não haja possibilidade de uma forma mais dura. O conteúdo, por sua vez, ancora-se em uma ótica niilista engajada (e expõe as contradições dessa contradição), da impossibilidade (ou inutilidade) da ação (ao mesmo tempo necessária) diante do movimento opressor do mundo, da sociedade e dos próprios eus expostos em um discurso ininterrupto, com múltiplos nexos (im)possíveis. O poema termina com uma única linha incompleta, permitindo uma abertura formal nessa “muralha” de palavras que, de outra maneira, talvez fosse impenetrável; ao mesmo tempo, entre a última e a penúltima linha, quebra-se o sintagma “me des / culpem”, convidando o leitor a entrar nessa estética dura a partir da adoção de um posicionamento crítico a favor ou contra a própria obra. O poema não tem título e compõe a primeira de três partes do livro, intitulada “A QUEDA”.
O segundo poema do livro (que consta também, não sem motivo, na contracapa) oferece uma chave de interpretação para esse projeto estético:
se teu verso não causa
náusea ou suicídio
é propaganda
Esse poema inaugura a segunda parte do livro, “VERSÍCULOS SÓRDIDOS”, que, como numa sinfonia que se inicia lenta, morosa, em seu primeiro movimento, passa, num segundo, para um andamento rápido, agitado. Aqui, porém, a brevidade da forma, que atrai o olhar com uma promessa de lirismo, de arroubo de sentimento tão intenso quanto breve, tem um duplo antitético no conteúdo semântico, que aniquila toda possibilidade de uma degustação despreocupada e leve. O poema se instaura como uma espécie de manifesto contra o lirismo fácil, o poema piada, o subjetivismo alienado: na estética mapeada pelo livro, não há possibilidade de poesia que não tensione o leitor, que não o leve a se confrontar com o que há de mais difícil nos diversos planos da vida humana.
Os poemas da terceira parte, por sua vez, completam o movimento sinfônico, encontrando um meio termo entre a forma inabordável da primeira parte e a forma fugidia da segunda: apresentam um grande rol de experiências formais variadíssimas. De um lado, por exemplo, temos o soneto “o taxidermista”:
procuro entre carcaças minha obra-prima
primeiro achando peles inda não rasgadas
cortando fino o ventre pela mediania
tirando toda víscera a ser descartada
primo pela fachada memorabilia
animais objetos sentimentos nada
cadáveres que restam na fisionomia
preenchidos de técnica algodão e palha
espantam-se os fregueses com a forma estática
afastando com asco o que realizei
como vissem a fera que lhes vive à caça
agora que respiram gentes empalhadas
inverte-se o ofício a que me dediquei
de corpos faço vida pra ornar a sala
Posto num livro de sonetos, o poema não teria o efeito que tem dentro de talvez um instrumento o que se houve ao fundo. Parece fazer graça do próprio ato de escrever um soneto, essa forma que, dentro do projeto estético do livro, torna-se também um duplo do animal empalhado que escreve: causa tanto espanto quanto um tigre taxidermicamente montado, visto que a forma fixa – poderia dizer-se que – está para a estética contemporânea como o animal predador está para o homem. A rigidez da forma, quando tomada como impossibilidade de alteridade (ou seja, como uma negação do Modernismo e sua abertura de possibilidades), é tão ameaçadora para a liberdade estética contemporânea quanto o tigre é para o homem que o encara. Ao mesmo tempo, vivemos nesse tempo em que “respiram gentes empalhadas”, espantalhos vivos, taxidermicamente perfeitos, mas vazios. Nesse contexto, criar novos corpos (ter filhos?), poderia ser uma atitude para confrontar o problema, para buscar a salvação do mundo. Porém, essa atitude do eu-lírico é, ao mesmo tempo, esvaziada numa busca superficial por “ornar a sala”. Essa virada ao fim do poema aponta para o intenso espírito de autocrítica da obra, em que mesmo um gesto salvador pode revelar ter algum vetor mesquinho, individualista.
Em estreito contraste formal, por outro lado, temos o poema “ARVOREU”, que se constrói, em moldes concretos, em torno da intersecção da palavra ARVOREU consigo mesma, como duas colunas de versos, inabordavelmente alternando a face das palavras de modo que, de nenhuma maneira em que se vire o livro, é possível ler confortavelmente o texto:

De tensionamento em tensionamento, crítica a crítica, o livro de Guto Leite aos poucos dá pistas para um entendimento de seu título: talvez seja um instrumento, se é que existiu, algo que subjaz à estética do livro e de longe se percebe. Ou seja: talvez haja uma finalidade prática para a arte; talvez a estética aponte para uma pragmática. Sobretudo, porém, evidencia-se o espírito crítico, que dá sentido à forma e é parte constitutiva dela mesma nesse projeto ousadíssimo, tour de force poético em que Guto Leite não nos brinda com nada, mas sim nos empurra precipício abaixo, ou melhor, nos aponta para o fato de que há algum tempo nós já vínhamos caindo e de que talvez não haja muito o que fazer a respeito, ainda que seja, mais do que nunca, necessário fazer alguma coisa. É nessa aporia, nessa imbricação incontornável e inabordável entre impossibilidade e necessidade, que o poeta esboça algo profundo sobre os dias em que vivemos e sobre o que temos nos tornado.
“Tua cantiga”, de Chico Buarque, não é uma canção de amor
2 Comentários
(Texto publicado no jornal Zero Hora no dia 26 de agosto de 2017)
Ouvir uma canção inédita de Chico Buarque é lembrar do quanto pode ser complexa uma canção. Trata-se de objeto de arte, e aqui isso significa uma forma que recusa leituras rápidas ou imediatas. A percepção dessa diferença desperta uma desconfiança, um redobrar da atenção para as nuances da forma e a necessidade de mobilizar o que for possível de instrumental crítico para dar conta da riqueza de recursos do artista. Em outras palavras, ouvir Chico é ouvir um compositor que cria grandes canções há cinquenta anos, pelas quais passa boa parte da história da canção popular e do Brasil moderno.
Chico não é um aplicativo, não é um link, não é uma postagem, que se abre ao primeiro toque. Suas canções trabalham no sentido inverso da mercadoria, seja no tempo que requer para ser consumida, seja na relação que estabelece com o ouvinte, decepcionando os desejos superficiais e falsos do consumidor. Em termos práticos, algo não resolvido nas canções de Chico não remete a uma insuficiência de recursos. Seu mais novo disco, Caravanas traz nove canções, sete delas inéditas, lançadas seis anos após o trabalho anterior. Deve-se presumir, por isso, que não se trata de sujeito ingênuo, e que essas canções foram escolhidas dentre dezenas. É desse lugar que parto para ouvir Chico Buarque, é desse lugar que parti para ouvir “Tua Cantiga”.

Logo na primeira audição, dois trechos me chamaram a atenção. Primeiro, a rara, pensando na obra de Chico, alteração de acento natural da palavra que acontece em “tua”, de “quando ‘tuá’ garganta apertar”, logo na “cara” da música. Segundo, a expressão cristalizada “estrada afora” em “E, estrada afora, te conduzir”, que reconhecemos na versão popular da canção de Chapeuzinho Vermelho (versão de Braguinha). Por tudo o que já foi dito, esses elementos não estão aí por acaso, e fui investigá-los. (Um aparte: a música de Cristóvão Bastos é extraordinária! Um lundu em compasso ternário, supersincopado, com uma linda modulação na melodia e uma harmonia que sublinha a rítmica peculiar da canção. O resultado é que gruda na cabeça, de cantarolar antes de decorar a letra.)
Comecei a abrir a porta pelo “estrada afora”, que evoca a história formatada pelos irmãos Grimm. Passamos, então, a notar nas outras estrofes as referências ao Lobo Mau (“basta soprar meu nome”), à Bela Adormecida (“toda manhã/ eu te despertarei”), à rainha Má (“serás rainhas/ serás cruel, talvez”), ao guarda de castelo (“se teu vigia se alvoroçar”), ao espelho mágico (“entre suspiros/ pode outro nome/ dos lábios te escapar/ terei ciúme/ até de mim/ no espelho a te abraçar”) e, com alguma mediação, às Mil e Uma Noites (“se as tuas noites não têm mais fim”) e aos corpos errantes (“se um desalmado te faz chorar”, em que o “desalmado” precisa ser lido literalmente, como um morto-vivo). Essas lendas não aparecem em sua versão edificadora, moralista, mas suscitam uma ambiência macabra. Com as alusões descobertas, fui buscar as referências nos trechos que me escapavam. O “tuá garganta”, soando o francês toi (“tu”, “você”), em posição invertida, recupera o Gargantua, de Rabelais, uma figura grotesca de glutão – a impessoalidade do verbo “apertar” nesse verso torna ambíguo se a garganta se aperta sozinha ou se alguém a aperta, o que sugere também o verbo francês tuer (“assassinar”). Em “Ou estas rimas não escrevi/ Nem ninguém nunca amou”, a menção aos versos de Shakespeare, “If this be error and upon me proved/ I never writ, nor no men ever loved” (devo essa referência à Liziane Kugland), recuperando a figura do bardo e a figuração trágica do amor.
A canção é uma ciranda de referências variadas pertencentes a um universo comum, antigo, anterior. Nessa leitura, a última estrofe se transforma na chave principal do todo, em que “o próprio compositor” confessa “E quando o nosso tempo passar/ E eu não estiver mais aqui/ Lembra-te, minha nega/ Desta cantiga/ Que eu fiz pra ti”, presentificando o cantar da canção e colocando-se como um resquício do passado. (Passo ao largo dos muitos recursos poéticos mobilizados, mas gostaria de frisar as rimas aliterantes, “suspiro/ligeiro”, “nome/perfume”, “lenço/alcanço”, “filhos/joelhos” etc., uma espécie de rima deceptiva, cuja presença marcante reforça o sentido geral da minha interpretação, a construção de um signo de descompasso.)

É pertinente perguntar quem as canções de Chico representam, visto que é impossível que mantenham a mesma representatividade entre 1966 e hoje – Chico já foi um herdeiro da Bossa Nova, um opositor da ditadura, um intérprete do Brasil, um sinônimo do que seja canção popular. Há seis anos me perguntei isso num outro texto. O compositor está ciente da questão, e “Tua cantiga” também se refere a esse entroncamento, como estou argumentando. Além disso, pensando a forma estética como uma permanência do contraditório humano, o envelhecimento e a anacronia cantados pelo compositor são uma extraordinária qualidade, na percepção do artista maior absolutamente lúcido sentindo e expressando a passagem do tempo; no conjunto de seus discos mais recentes, a entoação gradual de um passamento. “Tua cantiga” é muito mais valiosa do que se ele reduzisse essa perspectiva a uma posição fragmentada, alienada, e artificialmente atualizada e representativa, o que resultaria em gesto reificado.
Muito diferente disso, Chico insiste na canção de um amor que soa, a uma primeira audição, ultrapassado, desde a escolha do lundu como ritmo. É ridículo considerar que o cancionista seja inocente em relação a isso ou que não tenha recursos para fazer diferente. Ao revés, Chico caminha deliberadamente nessa floresta sombria que está representada na canção, afrontando o medo, o problema, o pesadelo vivo e complexo de um dos maiores artistas do país envelhecendo na nossa frente, deixando de estar na crista de seu tempo – compare-se sua dicção com a de Caetano Veloso, por exemplo. Concomitantemente, como um velho malandro, dribla a audição consumista, dando-lhe migalhas rumo a um caminho simples, mas erroso, enquanto sobrepõe camadas de leitura que apontam para outras trilhas.
As múltiplas referências às histórias infantis exageram propositadamente o passado enquanto entrelaçam horror e mística. Embora seja o mesmo eu cancional, seu caráter é monstruoso e aceita a leitura de que possa ser um a cada estrofe, uma voz particular, um narrador, para cada história. Há estrofes, inclusive, que um eu cancional feminino é mais provável, como a do espelho mágico. A única referência ao gênero masculino na voz da canção é no verso “Mas teu amante sempre serei”. Se pensarmos nesse esfacelamento, os polêmicos versos “Largo mulher e filho/ E de joelhos/ Vou te seguir”, que representariam abandono pela figura paterna, podem também ter sido entoados por uma mulher ou pelo amor a uma espécie de santa, não um amor carnal. Se não pensarmos, ou seja, se entendermos que uma única voz entoa todas as estrofes, a canção não constrói a voz de um amante solar, de um conquistador, de um príncipe encantado, mas espalha, da letra à ambiência, sinais de sofrimento, a voz de um maldito, de um Quasímodo, de um Ahasverus. Os “quando”s e “se”s que abrem as estrofes expressam a não realização do amor, ao passo que a iluminação da melodia (sua modulação) evoca, com a letra, as fantasias possíveis, os fachos de luz, dentro desse bosque fechado.
“Tua cantiga” é repleta de interrupções, de desencantos, traz as histórias infantis sem o velar dos finais felizes. Aceita e dá forma cancional ao substrato medieval dessas histórias, enquanto ironiza sobriamente a si mesmo. Chico, um medieval? Ele se pergunta, sarcasticamente. Estamos ouvindo a voz de um morto? Poderíamos nos perguntar. “Tua cantiga” não é uma canção de amor, mas uma canção de morte. Nesse sentido, não poderia ser mais política.

P.S.: depois de ter escrito este texto, Chico divulgou a capa do álbum, em que aparece de costas, na sombra, do avesso, quase temos a sensação de que o compositor toca violão como canhoto (veja acima). Mais água para esse moinho. A foto de um drible.
Zeca Baleiro F. C.
3 Comentários
Quando mediei uma conversa entre Zeca Baleiro e Vitor Ramil em 2011, comecei a conversa dizendo que eu me sentia um árbitro do Barcelona e Real Madrid da canção brasileira dos anos 90, meu objetivo era não atrapalhar o jogo. O Zeca não deixou a bola cair e me provocou curiosamente: “mas quem é o Barcelona?”
É claro que eu tinha pensado sobre isso e o Barcelona era ele, enquanto o Real Madrid era o Vitor. Dá pra desenvolver mais a comparação dos dois, mas eu pensava especificamente nos gestos de cada um como artista, em suas dicções. Dentro do campo de entender a canção como trabalho, o primeiro arrisca-se em prol do espetáculo, é exuberante em seu jogo, perde eventualmente, mas encanta, enquanto o segundo tem confiança num certo modo de ser que antecede aquela partida em especial, tem um jogo eficiente, raramente perde, de gesto impecável, mas geralmente pouco encantador. (Vale dizer que, em geral, torço pro Real, mas prefiro ver o Barça jogando.)
Recupero a história para saudar o show em que Zeca Baleiro canta Zé Ramalho e que tive a oportunidade de ver ontem à noite, no teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre. Seria possível falar sobre vários méritos do projeto e do show, como a versatilidade muito competente da banda, os arranjos coletivos e criativos, os interessantes recursos de luzes e vídeos, a escolha muito feliz do repertório, que dá uma dimensão espantosa do tamanho da obra de Zé Ramalho etc., mas quero me focar em três.
Primeiro: fico impressionado com a quantidade de projetos que o Zeca Baleiro desenvolve ou se envolve. O mais interessante pra mim é que ele mora em São Paulo, mas não se “apaulistanou” – ser paulistano não é um defeito, só em aproximadamente 80% dos casos. Melhor dizendo, tenho a impressão de que ele sabe que é estrangeiro e comporta-se como um amável contrabandista de capital simbólico, iluminando artistas e aspectos da cultura nordestina a partir da máquina cancional estabelecida na pauliceia. Desculpem-me os integralistas, mas acho não se integrar um grande mérito. Nesse sentido, conversa antes com artistas de fora dessa cena, Zelia Duncan, Tom Zé, Ednardo, Fagner, entre outros, do que busca um lugar. Em síntese, acho que o Baleiro saber que é “o outro” e é a partir daí que organiza suas forças – só pra dar contraste na comparação, porque desenvolver isso renderia outro texto, comparem com a maneira como Lenine se carioquizou – se acariocar, veja bem, não é um defeito, é claro, só em aproximadamente 80% dos casos.
Segundo: desta vez a obra iluminada foi a de Zé Ramalho, que o grande público conhece do Grande Encontro ou do Rei do Gado, mas que é muito mais do que isso. O show foi capaz de sublinhar o quanto o compositor é uma das dicções mais marginais nos complicados anos 70. Não é Ave Sangria, mas também não tem a loucura límpida de Alceu Valença e Geraldo Azevedo. Numa combinação muito peculiar de profecia, mistério e engajamento, combinação que o próprio show ajuda a desvelar, tem algo de arranhado na poesia de Zé Ramalho e isso casou bem com o trabalho do Zeca. Ambos tencionam a relação com o público, o mercado, o “bom gosto” – no show, por exemplo, o boa noite só veio lá adiante, para desespero de parte da consumista plateia, não obstante a simpatia do intérprete todo o tempo.
Terceiro: não sendo acadêmico, e tendo certa aversão (que até considero meio boba) em relação à academia, Zeca Baleiro interfere como artista-agente-crítico no panorama da canção. Nesse sentido, age muito mais decisivamente do que a maioria dos acadêmicos que estuda canção popular. Quando grava o artista x em seus selos, faz show do artista y, comenta o artista z, está ampliando o horizonte da canção e em boa medida dizendo: você deveria ouvir fulano, não dá pra esquecer ciclano. Esse lado não propriamente artístico do artista é cada vez mais raro num universo dominado por grana e interesses correlatos.
A única coisa a lamentar, em certo sentido, é que o projeto caminha pro seu fim, sendo o show de ontem o antepenúltimo show da turnê. A alegria desse fim é saber que agora vêm gestos novos por aí, novos dribles, novas táticas. Que jogo vai nos propor o Zeca Baleiro F. C.? Vai dar certo? O que é dar certo no campo da arte? Numa passagem do show, o Zeca imaginou a cena dos empresários de gravadoras ouvindo “Vida de gado” pela primeira vez e não entendendo nada. Zé Ramalho deu errado ou deu certo? Cá do meu lugar na arquibancada, deu certo, mesmo que tenha passado por certo ostracismo na segunda metade dos anos 80, mas que seja desconhecido por parte importante do público de hoje. Um viva a esses artistas que sabem que dar certo é também dar errado! Viva!
https://www.youtube.com/watch?v=XFodV7GVJBQ
A verdade sobre o caso Harry Quebert
1 Comentário

Alguns professores e críticos não se interessam por best sellers, ao considerarem esses livros demasiado concessivos no jogo de representar as questões mais interessantes da experiência e elaborar, concomitantemente, uma forma estética autônoma e interessante. Diferentemente, sempre me interessou entender como um livro é capaz de vender cem mil exemplares e outro é incapaz de vender mil. Como um livro encontra o ponto médio do horizonte de leitura do seu tempo? Essa me parece uma questão interessantíssima! Indústria do livro à parte, se é que seja possível apartá-la, estou convencido de que nem todo marketing do mundo faria Grande sertão: veredas – meu livro preferido de todos os tempos – vender centenas de milhares de exemplares se lançado hoje. Também não acho que seja fácil escrever um best seller, mesmo que digam haver uma fórmula para isso. Se assim o fosse, todos os escritores o fariam para lograr de alguma tranquilidade financeira em seu ofício. Que mistérios guarda uma literatura acessível?
Com essa inquietação, encarei as quase seiscentas páginas de A verdade sobre o caso Harry Quebert, livro aclamado do suíço Joël Dicker, um dos convidados da FLIP deste ano. Como esperado, não me impressionei com a capacidade do romancista em construir personagens – muitos deles se parecem e, em alguns trechos, até mesmo ecoam frases e pensamentos uns dos outros – e nem me convenci com a linha geral do enredo – as muitas guinadas nas últimas cem páginas do livro estremecem um pouco seu poder de verdade -. mas é notável a maneira como o ritmo da história é mantido e, com ele, o autor consegue manter a atenção do leitor e a vontade de seguir descobrindo o que irá acontecer.
Também é preciso realçar a maneira como a estrutura do livro consegue manter um equilíbrio formal bastante sofisticado. Sem antecipar o fim (e a pergunta da promoção), o livro apresenta em primeiro plano um jovem escritor, Marcus Goldman, em busca de uma história para seu novo livro. Em segundo plano, seu mentor no mundo literário, Harry Quebert, se vê envolvido no homicídio de uma garota de quinze anos acontecido três décadas antes. Completam a forma, a suposta obra-prima lançada pelo mentor, As origens do mal, o livro que está sendo escrito por Marcus – que é e não é o livro que o leitor tem em mãos -, além de alguns excertos de ensinamentos de Quebert ao jovem escritor. Todas essas estruturas correm em paralelo, enquanto acompanhamos o desdobramento da investigação e da escritura, em forma bastante cuidadosa.
Por fim, ainda empolga a maneira como o autor desvela algumas dinâmicas nefastas das altas esferas do mundo editorial, desde a pressão do editor para que o livro seja escrito o mais rápido possível até uma estratégia de marketing que passa pela polêmica e pelo sensacionalismo. Como também decepciona a utilização de uma linguagem muitas vezes trivial e imprecisa, como se bastasse uma apreensão aproximada do real. E talvez baste…
Acho que deu pra perceber que não consegui descobrir as origens da boa literatura pop. A sensação geral foi de bastante divertimento, embora algumas vezes eu tenha me aborrecida com uma ou outra fragilidade formal e, noutras, tenha sido convocado pelas leituras mais exigentes do meu trabalho. Mas vale notar que, durante as últimas semanas, enquanto descansava, nas últimas horas do dia, vinha uma voz cá de dentro a me dizer com doçura: “vamos lá, por alguns páginas, ver quem matou a menina?”
PERGUNTA DA PROMOÇÃO (a melhor resposta até sexta-feira, 11/07, ganhará um exemplar, a ser enviado pela Editora Intrínseca): Marcus Goldman, o principal narrador do livro, inicia sua história com um tremendo branco para conseguir escrever; de jeito nenhum ele consegue começar o romance, já previsto em contrato com sua editora. Para tentar resolver o branco, ele viaja para a casa do antigo mentor, Herry Quebert e o enredo principia. A pergunta é: do que você seria capaz para resolver um branco na hora de escrever?
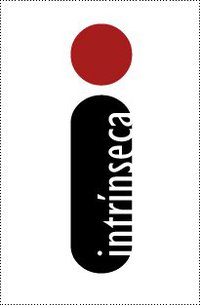
O Rei de Amarelo
7 Comentários
Quem tiver o prazer e a curiosidade de abrir O Rei de Amarelo, livro de contos de Robert W. Chambers (1865-1933), provavelmente terá uma grata surpresa.
As razões para essa surpresa podem passar pela construção de um mundo distópico e paralelo, em que vigora uma espécie de organização marcial e onde as personagens são assombradas pela leitura de… Deixo esse tópico para o fim do texto. Faz pensar a raridade em nossa literatura de obras que busquem construir outras realidades, que primem mais pela imaginação do que pela representação – embora essas categorias não sejam assim tão excludentes. Haveria aqui uma realidade incontornável? Haveria noutras paragens uma realidade insuficiente? Ou seria tão-somente uma tradição alegórica imaginativa que não teve tantos adeptos por aqui?
Também chamará atenção outra raridade em nossa árvore: as narrativas de horror. Normalmente narradas em primeira pessoa – justamente para que a limitação de visada do leitor coincida com a limitação do narrador e o mundo se mostre gradativamente -, o escritor consegue dominar, em estilo ao mesmo tempo enxuto e descritivo, o ritmo necessário para que o leitor se aflija com o enredo do conto, em que não raras vezes são contados fatos que se depositariam no que consideraríamos os limiares do universo real.
O livro ainda interessa como representante da literatura gótica americana – palheta que raramente está no debate de nossos cursos de literatura. Lançado em 1895, parece construir uma ponte interessante entre a literatura fantástica do século XIX e a literatura onírica e impactante de alguns autores do século XX, como H.P.Lovecraft, Neil Gaiman e Stephen King. Vale ainda frisar, já na seara biografista, que Chambers tornou-se um exemplo de escritor que, tentado pela feitura de novelas popularescas, abandonou a literatura exigente para morrer confortavelmente estabelecido numa mansão em Nova Iorque, rico e esquecido pela crítica. Feliz?
Há ainda um assunto pendente nesta breve resenha e é ele quem motivará a pergunta promocional. Na primeira parte do livro, as personagens têm contato com uma peça de teatro chamada O Rei de Amarelo. Jamais sabemos o conteúdo literal da obra, mas percebemos pelas reações diante da leitura que se trata de texto insuportável para aqueles que o leem, sobretudo o segundo ato. Muitos enlouquecem, são assombrados, ficam catatônicos, buscam a morte, por causa do livro. O crítico Robert Price chega a dizer que os contos compõem uma espécie de pesadelo coletivo conjunto daqueles que tomaram contato com o conteúdo da obra.
Por conta disso, a pergunta desta resenha é esta: o que você acha que pode conter O Rei de Amarelo para provocar uma reação tão extremada e desesperadora em seus leitores? (As duas melhores respostas ganharão um exemplar do livro, a serem enviados pela Editora Intrínseca).
Apanhando no Ar
Deixe um comentário
O quarto álbum da banda Apanhador Só, Antes que tu conte outra (2013), animou a todos quando saiu. As letras, que já eram boas, melhoraram, a sonoridade criativa do grupo amadureceu e ampliaram-se os temas tratados nas canções. No conjunto, sensivelmente um aumento no tom da conversa.
Passados alguns meses, porém, veio uma surpresa maior. Ouçam só: o trabalho foi gravado entre a primavera de 2012 e o verão de 2013, antes, portanto, de os protestos tomarem as ruas em junho de 2013, mas como entender que a banda pareça ter feito uma espécie de trilha sonora das manifestações que convulsionaram o país no ano passado? Ao menos em Porto Alegre, estou certo de que alguns dos que engrossaram o coro descontente tinham na cabeça uma ou mais canções do CD.
Para não ficar no vazio, em “Mordido”, que abre o álbum – há até um vídeo no Youtube, intitulado “Não vai ter Copa”, que traz a música com uma série de imagens afins aos protestos –, o eu da canção desmascara seu interlocutor, habilmente indeterminado, e dá a ele quase um ultimato. “Essa balela aqui não vai colar / não tá tão fácil assim pra convencer / esse teu papo de querer crescer / (…) não cola mais, já deu pra perceber” ou “O teu esquema sempre foi lograr / criar uma imagem boa pra vender” são versos representativos. Reparem na acusação da mentira, na expressão da descrença, na desconfiança, na afirmação de que há um esquema para enganar e atrair as pessoas – linha a linha, alguns dos cartazes que vimos nas ruas.
As referências estão por todo o álbum e manifestam a possível “gota d’água” sobre vários pontos: “Cansado eu chego em casa, o willian bonner me afaga / me contando alguma fábula de algo que ocorreu” (“Despirocar”), “que é uma delícia / te deixa gorda / ninguém sabe a fórmula / mas tem muito sódio” (“Líquido preto”), “qual é, afinal, o peixe que tu tá vendendo?” (“Por trás”) e a impressionante “Reinação”, que conta o dia da revolução num clima lúdico, bélico e utópico. Letras amplificadas pelo uso de distorções, batidas eletrônicas e sonoridades não ortodoxas – sinetas, latas, campainhas etc. –, que dão um ar de extraído diretamente da vida comum das pessoas e de que o mundo representado é um tipo de engenhoca velha, rangendo.
Descrito o factual – que a banda conseguiu plasmar nas canções muitos dos traços que comporiam os protestos em seguida –, vale pensarmos um pouco sobre como isso foi possível e também investigar em quê isso nos ajuda a entender melhor, tanto as canções, quanto os protestos.
No primeiro caso, e, para o bem da conversa, dispensadas as explicações transcendentais, acho que um caminho interessante seja o entendimento da concepção moderna de artista, qual seja: aquele que busca representar, da maneira mais precisa possível, o tempo e o espaço em que vive. Em nosso tempo e espaço tão velozes, essa definição ganha interessantes matizes, porque, apesar do que diz a física, o tempo não parece chegar ao mesmo tempo para todos nós, ou dizendo de outro jeito, o desenvolvimento das coisas fez com que incontáveis tempos históricos e subjetivos coexistam num mesmo tempo físico em uma sociedade.
Vejamos diretamente no exemplo do álbum, que esclarece. É mais ou menos geral a sensação de que os protestos vieram como desfecho de um processo anterior. Sem entrar nos detalhes da enredo, saímos de uma longa ditadura com várias heranças nefastas, dentre elas: um monopólio dos meios de comunicação, figuras políticas não confiáveis, amplo domínio do mercado por produtos estadunidenses, certo ufanismo patético e infundado, além de uma mudança no perfil da classe média, agora mais consumista e mais imediatista.
No entanto, a maturação dessa conjuntura chega a tempos diversos a cada um. O “basta” veio pra muitos em junho, mas certamente era o pão diário de alguns espíritos indignados um tanto mais cedo. A melhor interpretação da expressão “os artistas são antenas da raça”, de Pound, me parece ser exatamente esta. Artistas (e intelectuais, e estudantes, e taxistas e etecéteras)
podem sentir antes o que está no ar e expressar essa angústia por meio de suas possibilidades.
Esta é a minha explicação do prenúncio: o Apanhador Só apanhou, só, no ar, uma série de insatisfações e fez canção em alto nível no seu mais recente álbum. Antes que tu conte outra atingiu, assim, o ideal da arte moderna, ao representar seu tempo e proporcionar uma chave para que os contemporâneos interpretem a si e ao seu entorno com mais facilidade.
De que nos serve apontar essa simetria (ou isomorfia)? Para o meu gosto, serve também para fazer o caminho inverso e ler os protestos com a lente fornecida pelos artistas. Por essa lente, duas características me soam claras.
A primeira é que o grosso das manifestações viceja e padece por excesso de juventude. Sou certamente do time que prefere jovens inconformados a conformistas, mas muitas vezes me incomoda certa arbitrariedade dos protestos, que acabou derivando para uma posição autoritária (uma querida professora, também de esquerda, menos mineira do que eu, não hesitou: uma posição fascista). Debati na época com alunos que tomavam parte no protesto e me lembro bem de uma estudante que disse: “eu não sei o que fazer, eu só sinto essa angústia, essa coisa na garganta”. Neste álbum, as canções da banda expressam muito bem isso!
A segunda característica, mais abstrata, consiste no diagnóstico de que nossas vidas têm transcorrido numa velocidade muito maior do que antigamente. Alguns conseguem lidar bem com a correria e manter-se firme em meio ao turbilhão, mas a maioria é tragada pela corrente de consumo, expectativas, desejos, rejeições e superficialidades. Uma vontade urgente de refrear o ritmo é uma das notas que se realçam na audição do álbum, como no verso “se a vida é faísca / que brilhe devagar” (“Vita, Ian, Cassales”) ou na queda do andamento de “Não se precipite”, por exemplo.
Podem ter certeza de que um dos componentes dos protestos foi e será um grito desesperado ante a fugacidade, mesmo que muitos não o saibam.
(texto publicado no caderno “Cultura”, da Zero Hora, no dia 22/02/2014)
Herivelto
Deixe um comentário
Por Guto Leite (poeta e doutorando em Canção Popular pela UFRGS)
Convido o leitor para uma viagem à época dos imponentes bailes carnavalescos, de uma miséria menos atroz e irremediável, dos caixeiros, dos cassinos, das grandes vozes, de Grande Otelo, do princípio das escolas de samba.
Estamos em Engenheiro Paulo de Frontin (RJ), a 30 de janeiro de 1912, cem anos atrás. Na casa de Félix Bueno, um funcionário público pobre, nasce Herivelto Martins. A família grande, que dificulta o sustento, é perfeita para a Sociedade Dramática Dançante Carnavalesca fundada pelo pai, e é lá que Herivelto arranhará os primeiros instrumentos e desenvolverá seu faro para a oportunidade e seu desembaraço.
Félix progride em seu emprego e é transferido para São Paulo. Os desentendimentos com o filho talentoso aumentam, e Herivelto, então com 18 anos, não vê outra saída senão ir para o Rio de Janeiro. Trabalhando como barbeiro, recebe o convite de um freguês para gerenciar sua barbearia no Morro de São Carlos. Lá, alterna navalha e reco-reco na companhia de muitos dos grandes sambistas do Estácio, fundadores da primeira escola de samba, a Deixa Falar, e responsáveis pela forma como hoje conhecemos o gênero de Noel Rosa, nascido em 1910.
Seu talento como compositor logo fica evidente e Herivelto passa a se apresentar cantando, dançando e atuando. Conhece Francisco Sena, negro, e com ele forma a Dupla Preto e Branco, de nome inteligentemente óbvio. Mas o parceiro morre, em 1935, e entre idas e vindas para recompor seu dueto, cria, dois anos mais tarde, o Trio de Ouro com Dalva de Oliveira e Nilo Chagas. Com a primeira, teve um casamento conturbado e polêmico. O segundo preferia vedetes. Por sete anos o Trio de Ouro reina no Cassino da Urca, mas o presidente Dutra proíbe os jogos, de azar, não o futebol, e o conjunto perde força. Nas décadas seguintes, tenta refazer o Trio com outros componentes, mas não teve sucesso em alcançar a antiga química.
Afastado da música-arte, volta-se para a música-política, sendo Inspetor do Trabalho na área musical na década 60 e presidindo o Sindicato dos Compositores por duas vezes, a última em 1971. A pontualidade e a seriedade que sempre demonstrou nos espetáculos então ganhava uma nova área de atuação.
Nas décadas de 70 e 80, mesmo amuado a respeito da forma como a grande mídia tratava a música popular brasileira, recebe importantes homenagens por sua carreira como compositor. Com mais de quinhentas canções e algumas dezenas de parceiros, Herivelto Martins falece em 1992, deixando belezas como “Izaura”, com Roberto Roberti, “Praça Onze”, com Grande Otelo, “Caminhemos”…
E “Ave-Maria do Morro”. Paremos um pouco no tempo por essa composição que adianta em dez anos a voga dos sambas-canções e depois se mostra absolutamente adequada à contenção divina de João Gilberto na Bossa Nova. “Barracão de zinco / sem telhado, / sem pintura. / Lá no morro, / barracão é bangalô.” Uma construção perfeita de vogais, erres, rimas internas, terminando com a melodia lá em baixo, na inversão da riqueza. “Lá não existe / felicidade / de arranha-céu”. Arranha nome? Arranha verbo? A felicidade plena, sozinha no verso, não existe por lá. “Pois quem mora lá no morro / já vive pertinho do céu”. Lembram daquele “sem”, agora de volta em “quem”? E “lá” em “já”? Tudo perfeito, condensado, nada falta ou sobra. “Tem alvorada / Tem passarada / Alvorecer / Sinfonia de pardais / Anunciando o anoitecer”. Com a melodia em revoada, várias letras a, abertas, para se fechar em enes, quando anoitece; além do verbo-nome, “alvorecer”, no centro da estrofe. “E o morro inteiro, / no fim do dia, / reza uma prece / Ave-Maria”. A santa como nome e como destino da prece, se ouvirmos a preposição escondida ali, antes da santa. Religião e natureza apontadas desde o título e amarradas pelo elemento humano.
De volta ao presente – e espero que o leitor tenha apreciado a viagem –, pergunto pelo lugar de Herivelto Martins na história de nossa música. Seríamos justos se o apreciarmos como um compositor de alguns acertos? Talvez. Mas alerto que um autor capaz de criar “Ave-Maria do Morro” merece nossa atenção. Também tenho poucas dúvidas de que a Bossa Nova, em que não pese todos os benefícios que trouxe, acabou por nos ensurdecer para compositores importantes das décadas de 40 e 50. Quando tudo se tornou pesado, exagerado e brega, alguns autores pagaram um alto preço por isso, e Herivelto Martins foi um deles.
O importante é acharmos os fones certos para ouvirmos determinadas canções. Um fone Bossa Nova não nos serve para ouvir Herivelto Martins; é claro que ele não é um artista do sucinto. Sua obra e sua vida sempre foram de grandes revoadas. Que tal se o ouvirmos sem fones? Que tal se nos depararmos com seus versos de maneira crítica, mas sem as arapucas de qualquer imposição estética?
p.s.: o leitor que queira outras viagens, pode conferir o programa Ensaio, da TV Cultura, gravado em 1990. Um contraponto de qualidade ao recente “Dalva e Herivelto: uma canção de amor”.
Os números de 2011
Deixe um comentário
Os duendes de estatísticas do WordPress.com prepararam um relatório para o ano de 2011 deste blog.
Aqui está um resumo:
Um bonde de São Francisco leva 60 pessoas. Este blog foi visitado cerca de 1.900 vezes em 2011. Se fosse um bonde, eram precisas 32 viagens para as transportar.
Clique aqui para ver o relatório completo